
quarta-feira, março 21, 2007
segunda-feira, março 19, 2007
Puccini e as mulheres inteligentes
 Sempre achei que ir à ópera é um bocado como estar apaixonada: intenso, belo e um bocado assustador. E de todas as óperas que nos mexem com os sentidos, para mim é Puccini que leva o prémio, o que, no meu entender conhece melhor as mulheres, e o amor.
Sempre achei que ir à ópera é um bocado como estar apaixonada: intenso, belo e um bocado assustador. E de todas as óperas que nos mexem com os sentidos, para mim é Puccini que leva o prémio, o que, no meu entender conhece melhor as mulheres, e o amor. Se muitas óperas retratam as mulheres como filhas dedicadas e amantes sofredoras, grandes mártires ou vilãs, é Puccini que escreve os melhores papéis para mulheres, as mulheres completas, inteligentes.
Sendo Puccini um mulherengo de carteira profissional, não nos escreve choramingonas irritantes a precisar de ser protegidas, mas antes traduz,e com uma grande sensibilidade, como é para uma mulher amar, entregar-se ao amor e sair dele de cabeça erguida, com dignidade.
Na sua obra mais conhecida , Madame Buterfly, mostra, sem sombra de dúvida, a forma diletante como os homens amam, o descuido que têm com as mulheres e como são absolutamente incapazes de ver outra coisa que não o seu próprio umbigo. O Pinkerton desta Buterfly abandona-a a dizer que sim senhora e que vai voltar um dia, ó sim, e sem olhar para trás casa-se com outra. Mais, para juntar o insulto à injúria, quando descobre que ela tever um filho vai com a nova esposa para lhe levar o filho, sem pensar duas vezes no amor que jurou sentir antes. Fez, como os homen fazem quase sempre, tábua rasa. Ela, claro, não faz uma cena, não lhe esfrega o amor não-correspondido na cara, antes se retira, com tanta dignidade quanta pode, para o deixar ser feliz (suicida-se também, mas em ópera, se ninguém morre é um anticlimax). Quantas de nós não reagimos assim, não nos sentimos já assim? Quantas de nós não sabem o que é ter um amor que não é nem querido nem desejado, antes desviado para o lado como um incómodo? E olhem que mesmo sendo Puccini um homem é Pinkerton aquele que sai mal nesta fotografia: a sua conduta não tem desculpa nenhuma.
A minha ópera preferida, no entanto, é a Turandot, que é aquela que tem, a meu entender, a caracterização de uma mulher forte e inteligente. (acima têm a Maria Callas caracterizada para cantar o papel de Turandot). A Turandot é uma princesa de gelo, uma mulher inacessível porque foi traumatizada (aren't we all?) que reduz à insignificância (por via de decapitação) de todos os que se ousam aproximar dela. Para a possuirem, terão de adivinhar três enigmas, ou acabou-se tudo. E ali está ela, solitária, até aparecer aquele homem que perde tempo e usa os miolos para a decifrar, tão arrogante quanto apaixonado, que a faz ver como o amor vale a pena. E ela entrega-se. Se lhes parece que conhecem o filme, ou pelo menos parte dele (até aquela parte de eles não se darem ao trabalho de tentar perceber), deixem que lhes diga que não estão sozinhas.
A maldição das mulheres inteligentes é essa, a falta de homens corajosos que se dêm ao trabalho. As galinhas submissas são para homens inseguros. Aquelas de nós que não são especialmente boas a fingir-se de submissas não têm mais remédio que mandar cortar cabeças- e viver sozinhas. E Puccini, como grande mulherengo que era prcebeu bem isso, essa essência dura e ao mesmo tempo frágil das mulheres, e falou dela como se fosse como nós, mulher.
No começo da minha ária favorita, o Nessun Dorma, o principe Calaf espera que a manhã chegue para resolver o embróglio em que se meteu. Turandot recusa entregar-se a ele e ele, galantemente oferece-se para morrer, se ela descobrir o seu nome até à manhã seguinte. Ela tenta desesperadamente encontrá-lo. Ele, a meio da noite encontrará Turandot e beijá-la-à, confessando-lhe o nome. Se ela o amar, confiará nele e cederá, se não, lá vai a cabeça. Não é esta a essência do amor, entregar-se mesmo podendo acontecer o pior, não é assim que se ama, incondicionalmente? É verdade que ele espera que ela se entregue, mas sabe perfeitamente que pode estar tudo perdido. E é um desses, assim, corajoso e apaixonado que todas as mulheres inteligentes esperam. Claro que também esperam ouvir Puccini quando são beijadas, mas nem sempre podemos ter tudo o que queremos, não é? Para vosso deleite fica aí o Nessun Dorma. Agora é só arranjarem o homem inteligente, corajoso e de bom gosto e lançarem-se ao trabalho...
quarta-feira, março 14, 2007
O cânone da beleza

Penso frequentemente que a beleza, como valor absoluto, tem as suas próprias lógicas e leis que anulam todas as regras do universo natural. A beleza vale-se a si própria, justifica-se a si própria, conmeça e termina em si, como os ciclos perfeitos de retorno universal. É incrível a quantidade de coisas que uma pessoa bonita- homem ou mulher- consegue fazer às cavalitas dela. A beleza predispõe-nos logo favoravelmente para a pessoa, estamos sempre mais dispostos a acreditar, a perdoar. Porque estar de posse de beleza, mesmo na posse efémera do amor, é uma espécie de amuleto, o nosso talismã contra as dores da vida e contra o seu fim, contra a morte.
Apesar de, nos homens, se estar a notar cada vez mais a pressão da beleza, numa mulher, a ausência dela é imperdoavel. Historicamente, ser bela é a sua obrigação enquanto género (assim como ser frágil e ligeiramente tonta, mas isso é outra conversa) e a falta de beleza significa que essa mulher o é incompletamente, uma espécie de flor do papel de parede, a ser ignorado.
Ética, filosofia e religião passaram séculos, milénios, a avisar-nos dos erróneos que os sentidos são e de que o que conta mesmo é o que está dentro e no entanto basta um gesto de mão, um relance da beleza e foi tudo ao ar, não há nada a dizer. Ou como diria e.e cummings:
quem presta alguma atençãoà sintaxe das coisas
nunca hei-de beijar-te por inteiro;
por inteiro ensandecer
enquanto a Primavera está no Mundo
o meu sangue aprova,
e beijos são o melhor fado
que sabedoria
senhora eu juro por toda a flor. Não chores-
o melhor movimento do meu cérebro vale menos que
o teu palpitar de pálperas que diz
somos um para o outro: então
ri, reclinada nos meus braços
que a vida não é um parágrafo
E a morte julgo nenhum parêntesis
Se a beleza, ou a ausência dela, se limitasse a influir na vida amorosa (arruiná-la, mais precisamente) já era mal bastante. Mas não, são todos os aspectos da vida afectados, desde o emprego que temos até à forma como somos tratados nos correios. A falta da beleza, ou, pelo menos, do elusivo "bom aspecto" torna-nos invisíveis, intocáveis. Numa época de políticamente correcto em que não se pode gozar com nada, os feios são o último reduto de temas hilariantes. Os alvos fáceis da piada maldosa.
Uma pessoa feia não terá nunca direito ao trágico. Uma mulher bonita lavada em lágrimas por um amor não correspondido (as if) tem compaixão e simpatia, uma feia lavada em lágrimas tem direito sempre a um risinho irónico e um, pois, não admira nada, mental. Até para o sofrimento há que ter estilo, senão vejam os risos que as cantoras de ópera gordinhas têm ao cantar, por exemplo, a Norma. A Maria Callas ficou famosa como diva incontestável não apenas pelo bem que cantava- e cantava- mas pelo modo como era bela como as mais belas no papel da torturada sacerdotisa norma. A Monserrat Caballé cantou a Norma igualmente bem (e com mais humanidade) e toda a gente se riu, vá-se lá saber porquê.
A beleza é o último dos espartilhos, o pior, porque é aquele que não podemos tirar. Aquele que é mais difícil de convencer. Volumes de retórica feminista, de filosofia e religião e sabem uma coisa? Tudo se desfaz com o golpe de pestanas que desperta o desejo, não há volta a dar-lhe.
terça-feira, março 13, 2007
sexta-feira, março 09, 2007
Deusas, Musas e heroinas avulsas
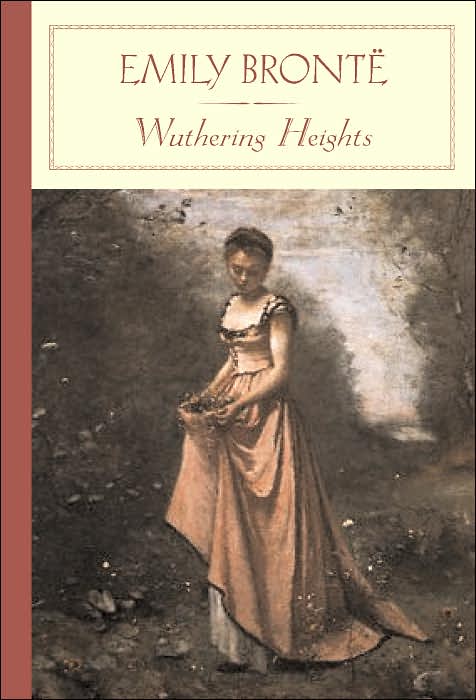
Há qualquer coisa de muito vital, de muito actual, neste livro, qualquer coisa que transcende todos os condicionalismos abafantes da Inglaterra vitoriana e pode ser tão verdade hoje como há cento e tal anos.
A primeira lição que se tira deste livro é simples: o amor não nos torna melhores pessoas, não nos salva nem redime, o amor, em si, não tem a capacidade de nos fazer felizes. O amor não é uma coisa agradável e feliz que nos torna em duendes felizes em vidas felizes em que se têm muitos meninos e uma station wagon para os transportar. É antes uma coisa vital, orgânica, uma força que não controlamos e que tem uma grande potencialidade de nos destruir, como os terremotos. Depois, não amamos generosamente, a história do Rilke dizer que tem de se libertar para amar porque prender é fácil e não se precisa de aprender é uma grande treta. Na verdade, quando amamos queremos é a nossa felicidade, que pode ou não corresponder com os melhores interesses dos outros. Não queremos nada saber se os outros estarão melhor, serão mais felizes, sentir-se-ão mais realizados com outros. Queremos é segurar o outro em nós para sempre, mesmo se segurarmos com força demais e fazemos doer, mesmo que o outro se queira libertar.
Depois aprendemos que nunca desejamos nada com tanta intensidade como aqueles são maus para nós, aqueles que sabemos que não podemos, ou não devemos, desejar. É como as moscas para a chama, deixamo-nos atraír até ao abismo, ou até à loucura, como Heathcliff e Catherine.
Por último aprendemos uma verdade cara em anos de sofrimento e teimosia: que nem sempre o amor vem em explosões e trovoadas, em tumulto, que há amores serenos graduais, onde um e outro preenchem as falhas e os defeitos do outro, até formarem uma coisa sólida, uma coisa melhor e que, no livro, são os únicos com final feliz, os únicos que permanecem.
quarta-feira, março 07, 2007
Feministas Eméritas
domingo, março 04, 2007
Histórias de fadas para meninas más
sexta-feira, março 02, 2007
A mãe do ano

Eu, como muitas das mulheres da minha geração, cresci com o dogma da infalibilidade maternal. As mães todas que conhecia eram omniscientes, omnipotentes e ubíquas. Sabiam tudo o que se passava nas nossas vidas, desde a dor de barriga ao disparate mais cabeludo, sabiam resolver os problemas todos de matemática, fazer reduções como umas campeãs e a tabuada na ponta da língua. As nossas mães, para além de saberem tudo como se tivessem informadores em todo o lado e dirigissem uma rede secreta de informações, estavam sempre lá ( mesmo no caso de trabalharem, como a minha sempre fez). Faziam-nos camisolas e iogurtes caseiros porque eram mais saudáveis, verificavam escrupulosamente a limpeza daqueles sítios menos óbvios, como atrás das orelhas. E não eram seres nada moles. Não se deixavam enganar com desculpas parvas ou chantagem emocional. Caso se justificasse nada nos safava do tabefe na hora certa ou do castigo. E ficávam as duas partes devidamente satisfeitas pelo dever cumprido. Eram aqueles seres de natureza dupla, terna e disciplindora ao mesmo tempo, capazes de nos fazer congelar com um simples olhar e resolver os problemas do mundo com um bocado de colo. E mais que isso, faziam-no sem esforço nenhum. No decorrer longo da nossa infância conseguiam ter tempo para sair com as amigas, comprar sapatos, ter um casamento sólido e fazer bolos para o lanche como se fosse dia de festa, controlar os nossos trabalhos de casa e brincar conosco como se fosse a coisa mais fácil do mundo. As nossas mães, nos nossos olhos de infância, eram perfeitas.
Agora que crescemos e que muitas mulheres da minha geração são já mães, a coisa não parece tão fácil como a vimos fazer. A maternidade é um campo ambíguo, cheio de dúvidas e de medos, e não fazr a coisa certa, de não disciplinar o suficiente ou disciplinar de mais, de ceder muitas vezes ou vez nenhuma, uma batalha constante com fraldas e chupetas e cadeirinhas e horários de infantário que deixa uma pessoa exausta fisica e emocionalmente, sem tempo ou disposição para mais nada. Ficamos com a ideia que criar e educar uma criança são tarefas difíceis e inglórias em que não haverá meta nem glória, apenas mais etapas e obstáculos, mais coisas a fazer, e ao mesmo tempo uma alegria intensa e dolorosa de sermos completamente responsáveis por aquele pequeno ser.
A um observador externo, como eu, que não tenho filhos, parecerá que as crianças, hoje, ao contrário do que se passava nos nossos dias, são indisciplinadas e barulhentas, e que não estão a ser convenientemente educadas, como nós fomos. De um certo ponto de vista até temos razão (e a culpa de ir trabalhar gera mimo e indulgência excessiva), mas vistas as coisas de perto não é tão simples como parece. Tenho amigas com filhos de várias idades, e consigo ver de perto o difícil que é fazer aquilo que as nossas mães faziam (aparentemente) sem esforço. E não é que as crianças desta geração bebam a rebeldia com o Ucal, apenas que a nossa perspectiva sobre a maternidade se deslocou. Enquanto filhas a maternidade era um facto, as mães simplesmente estavam lá e faziam as coisas que as mães fazem e pronto. Enquanto mães há que fazer escolhas e tomar decisões sob pressão rapidamente, podendo ou não as coisas correr bem.
As nossas mães não tinham, para nós, dimensão de mulheres. Não as conhecemos sem filhos, novas, cheias de sonhos e projectos de vida. Aliás, para as mulheres da geração das nosssas mães casar e ter filhos era o seu projecto de vida. Mas de qualquer forma, elas definiam-se como nossas mães, fazia parte delas essa característica, como a cor dos olhos e dos cabelos, o peso e a altura. Agora percebemos que não é assim. Como nas Pontes de Madison County, os filhos não faziam ideia da vida da mãe, dos seus sentimentos íntimos com a dimensão daquela paixão avassaladora, também nós sabemos pouco, ou nada da vida emocional das nossas mães, também os nossos filhos saberão pouco, ou nada daquilo que sentimos agora, mesmo aqueles sentimentos que nos envergonham e nos enchem de culpa (como por exemplo sentir, pontualmente, que deixámos de ter vida pessoal desde que fomos mães).
O consolo disto será, talvez, também esta geração crescer e, ao olhar para trás, achar que tinha mães infalíveis, que estavam sempre lá para o mimo e o conforto, para o pontual castigo na hora certa. E de que eram os mais sábios, mais perfeitos seres à face da terra, como as nossas.
quinta-feira, março 01, 2007
Subscrever:
Comentários (Atom)




